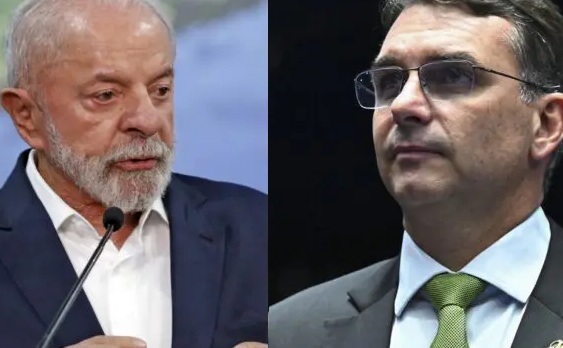Em seu comentário, o escritor Palmarí de Lucena critica o discurso simplista de que o Brasil pune quem produz com uma carga tributária elevada. Argumenta que o sistema é complexo, desigual e repleto de incentivos seletivos. Também condena “a idealização do empreendedor como mártir e defende um debate fiscal sério, baseado em dados e nuances, em vez de chavões ideológicos e visões maniqueístas da economia”. Confira íntegra…
Há um tipo de discurso econômico que se repete com a segurança de quem nunca teve dúvidas. Ele afirma, com convicção quase religiosa, que o Brasil penaliza quem produz, que tributos são obstáculos ao progresso e que a única salvação possível está na redução drástica da carga fiscal sobre empresas. No centro dessa narrativa, costuma estar um personagem conhecido: o ex-ministro Paulo Guedes, convocado como se fosse a única fonte legítima de sabedoria sobre economia — uma espécie de oráculo liberal infalível.
Essa simplificação sedutora costuma ignorar um detalhe incômodo: a realidade.
Dizer que a carga tributária sobre empresas no Brasil subiu de menos de 25% para cerca de 45% em poucas décadas é, no mínimo, uma generalização desinformada. O sistema tributário brasileiro é complexo e desigual, com múltiplos regimes (lucro real, presumido, Simples Nacional) e regras que variam por setor, faturamento, localização e incentivos. E, sim, há incentivos — muitos, amplos, e frequentemente obscuros. Só o setor automotivo, por exemplo, recebe há décadas renúncias fiscais bilionárias. O agronegócio, por sua vez, desfruta de um regime tributário amplamente favorável. Dizer que o Brasil “pune quem produz” é desconsiderar a miríade de exceções, benefícios e privilégios que certos setores acumulam há anos.
Também há um certo descuido lógico no argumento. Países que optaram por reduzir alíquotas nominais sobre empresas, como parte de uma reengenharia tributária, frequentemente compensaram com ampliação de base, aumento de impostos indiretos ou aperfeiçoamento de cobrança sobre dividendos. Não se trata de uma “corrida para o fundo”, mas de rearranjos complexos que exigem planejamento, compensações sociais e qualidade na gestão pública.
Ignorar esses elementos e tratar impostos como obstáculos absolutos é uma abordagem perigosa. Mais perigosa ainda é a romantização do empresário como vítima sistêmica do Estado. O empreendedor é, de fato, figura central na economia — mas elevá-lo à condição de mártir punido por tentar gerar riqueza é uma distorção narrativa que serve mais à ideologia do que ao interesse público. O verdadeiro problema não é “quanto se tributa”, mas “como e para quê se tributa”.
Outro ponto recorrente nesse tipo de argumentação é a defesa de que o capital reinvestido na empresa deve ser isento, enquanto o consumo pessoal de luxo deveria ser tributado com mais rigor. Trata-se de uma ideia que, embora atraente à primeira vista, costuma vir desacompanhada de propostas práticas. Quem define o que é “luxo improdutivo”? Como controlar, fiscalizar e tributar adequadamente sem ampliar ainda mais a regressividade do sistema? Como garantir que a renúncia sobre o capital produtivo gere de fato empregos e inovação, e não apenas acumulação ineficiente?
Falta substância. Falta cautela. Falta, sobretudo, compromisso com a complexidade que o tema exige.
É legítimo defender menos burocracia, mais segurança jurídica e maior eficiência tributária. Mas isso exige muito mais do que repetir chavões e alimentar mitos sobre um país que supostamente oprime seus empreendedores enquanto ignora as múltiplas distorções e privilégios do sistema atual.
No fim, o debate sério sobre política fiscal não pode se sustentar em slogans. Precisa de dados, diversidade de vozes e coragem para abandonar os velhos manuais que tratam a economia como um jogo de heróis e vilões. O Brasil não precisa de dogmas travestidos de soluções — precisa de lucidez.
Os textos publicados nesta seção “Pensamento Plural” são de responsabilidade de seus autores e não refletem, necessariamente, a opinião do Blog.