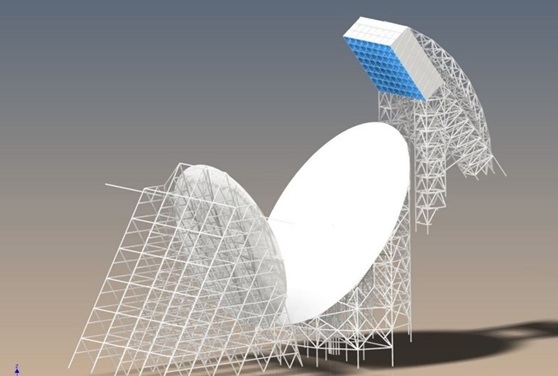O cineasta Durval Leal Filho traz, em sua crônica, a percepação que tem do que seja o céu e o inferno. “Hoje, quando volto a imaginar o céu, eu o imagino cognitivo, cheio de elementos para ler e para viajar”, escreve. “Em casa, o inferno era concreto: briga o dia todo”. Confira íntegra...
Fui aprendendo a imaginar o céu e o inferno a partir da minha criação com mais três irmãos, Gherman, Renan e Alexei, meu pai era comunista ateu, cada nome tem uma explicação e homenagens as suas vivencias. Dentro de uma casa com uma mãe muito católica apostólica, estudada em escola de freiras alemães, em Areia, na Paraíba, às vezes até fervorosa e austera demais.
Ela dizia, com uma certeza que não deixava margem para defesa: “Vocês vão tudo para o inferno.” Meu pai ria. E, no riso dele, havia uma mistura de deboche e cansaço: “Durval, esses meninos… vão tudo para o inferno, e Durvalzinho meu DEUS. Pense que meninos!? Todo dia eu tenho que dar nesse menino.” Eu escutava aquilo e ficava entre o medo e a curiosidade, porque, para uma criança, o inferno também pode parecer uma promessa de movimento: um lugar cheio de gente, de barulho, de desafio, de vida.
Em casa, o inferno era concreto: briga o dia todo, eu, Renan e Gherman atravessando as salas como cabritos teimosos, uma energia que não cabia nos corredores. Minha mãe trabalhava em dois expedientes, e a exaustão dela virava sermão. E havia Dona Maria, a cuidadora, comadre e sentinela moral da casa, alinhada com a pastoral carcerária.
Afrisio seu marido, estava preso em Mangabeira, e sairia da máxima, ele matou um companheiro lenhador com mais de 20 facadas. Desde menino sei das vicissitudes das cadeias e dos crimes bárbaros, e da narrativa que as celas dos presídios eras o pior dos infernos na terra, falava dona Maria.
A comadre repetia, sem esforço, como quem confirma uma profecia: “Vocês vão tudo indo para o inferno, pode ficar certo. Você não se aquieta.” Entre os nove e os dez anos, eu fiquei impressionado. Não era só o medo do castigo: era a ideia de destino, essa palavra enorme que a infância não sabe explicar, Céu e Inferno ali, mas já sente.
Mais tarde, por cargas-d’águas, veio morar um padre vizinho. Era dito educador em Patos, desses padres antigos, da Igreja Católica Romana tradicional. Tinha o jeito de quem carregava uma disciplina silenciosa, e ao mesmo tempo uma afeição particular por rapazes, como se quisesse moldar destinos com paciência e método.
Eu observava aquilo com um olho atento: a fé como arquitetura, a moral como ferramenta, e a casa como território onde céu e inferno, eram estranhos e próximos, disputavam espaço sem precisar de fogo ou nuvens.
A partir dos treze anos, adentrei no imaginário do meu painho, sua biblioteca foi como quem entra num mar. O mergulho começou por Moby Dick. A baleia virou uma espécie de espelho: o terror e o heroísmo andando juntos, o homem pequeno diante do grande, e o grande não como ameaça apenas, mas como medida do mundo Caliban, estava presente. Foi ali que o mar e o céu por Melville se tornaram enormes para mim.
Eu sentia esse tamanho quando chegava ao veraneio de Camboinha, o verde se fundia com o azul em verde, e nas noites de Craibeira, a fazenda da família em Pocinhos, nos céus de suas noites procurei satélites e vi o movimento celestial, o céu era infinito e contava histórias com horizonte no infinito que não acabava nunca. O infinito, naquela época, não era uma ideia: era uma sensação física.
E, no meio desse aprendizado, vieram as imagens que me atravessaram para sempre: o Jardim das Delicias Terrestres, ou o Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronimus Bosch, EL BOSCO. Uma pintura tripla, que propõe uma narrativa visual sobre a história do mundo desde a criação. Nas alas laterais, de um lado, o paraíso terrestre e, de outro, o Inferno. No painel central, Bosch constrói uma cena dedicada aos prazeres da carne, povoada por figuras entregues a experiências sensoriais intensas, em uma atmosfera marcada pela liberdade dos gestos e pela ausência explícita de culpa.
Eu via aquele quadro como quem folheia um mapa mundi proibido. Era nos “quadrinhos narrativos” das Delicias que percebi os delírios e vícios humanos, nesses mergulhos que a gente inventa para caber no mundo, que o inferno e o céu apareciam, e aparecem, lado a lado, sem pedir licença. Havia paraíso, havia excesso, havia queda, havia riso. Eu, menino, olhava e via pequenas cenas, pequenos cenários, pequenas narrativas dentro de um quadro maior. E, sem perceber, eu já estava treinando o olhar para ler o mundo como colagem.
Hoje, quando volto a imaginar o céu, eu o imagino cognitivo, cheio de elementos para ler e para viajar. Um céu que não cansa, porque muda conforme o olhar muda. Eu penso em cenas: olhar a paisagem, perceber cenários, sustentar um instante de silêncio. E penso, sobretudo, nas trocas de sorrisos.
Gente é bom quando troca sorrisos; gente é bom quando se toca. O toque de Michelangelo não é só livre-arbítrio: é necessidade. É o outro como confirmação do real. Você assiste a uma paisagem e, de algum modo, ela encosta em você. Você encosta de volta. E nisso, sem alarde, o céu se torna um lugar de encontro.
Eu tinha um componente que sempre procurei, o som. Eu procurava a música nos Jardims, tinha um paraíso e o no tempo tinha até músicos e músicas eu encontrei esses sons e sonoridades, nas estrelas, no Sítio das Estrelas, em Pituaçu, essa terra de onde cuido de águas e matas.
Aqui, os primeiros raios do amanhecer começam a se espalhar nas mutambas, com algazarras das maritacas, periquitos que se instalam como se o mundo acordasse rindo. O pica-pau, batendo bem longe, começa a chacoalhar os insetos para eles saírem do seu toque, e ele se alimentar. A rolinha voa. Os sabiás desenham um som que não é só canto: são lembranças.
Eu vi nas estrelas o meu céu. Meu céu tem anjas, tem ninfas, tem opostos. Sempre gostei do oposto, sempre vi Deus, a senhora do meu céu. Ela veste saia e vem banhada com cheiros de alfazemas e lavandas, um desafio das Delicias.
Amo meu Maracatu Lindo, com as cores da sua árvore de Natal; amo o verde do mergulho dos seus olhos, porque o mergulho verde traz o infinito de um céu que são os olhos dela, que trinta e oito anos, ainda mergulho com paixão por galáxias.
Era o que eu acreditava, e acredito: existe um universo particular em cada olhar. A íris dos olhos revela infinitude, um infinito prismático, como se cada visão fosse uma lente própria do mundo.
E, quando vejo as bolas coloridas na árvore do Sítio das Estrelas, elas me remetem ao céu: um céu feito de pontos, de cores, de memórias suspensas. Eu tenho esse céu e, com esse céu, eu posso ir devagar. Posso caminhar sem pressa, como quem recolhe o que importa. E posso saber, com uma serenidade que na infância não tinha, que vou guardar, quase atomicamente, as lembranças: o cheiro, a luz, o som, o riso, a água, o mar.
Porque o meu céu, no fim, não é uma promessa de depois. É o agora, uma forma para lembrar do infinito que eu vivi, nas projeções vividas, e de continuar vivendo, mais alguns agora, aprendendo a acalmar o olhar para levar a infinitude…
Os textos publicados nesta seção “Pensamento Plural” são de responsabilidade de seus autores e não refletem, necessariamente, a opinião do Blog.