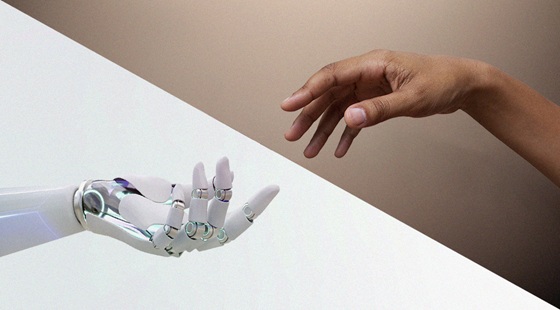
O cineasta Durval Leal Filho aborda, neste texto, o risco da caducidade precoce entre gerações, por conta do avanço estonteante da tecnologia. “Quando a memória era um álbum, havia um ritmo próprio de recordação. Era menos frequente, mas mais densa: cada imagem puxava uma sequência de falas, de lugares e de relações”, já a a “tela encurtou a distância entre produzir e ver. A gente registra tudo, o tempo inteiro. A memória parece mais próxima, mais acessível, mais “na mão”. Só que essa proximidade tem um custo cognitivo e político”. Confira íntegra...
Hoje eu revisitei minha memória e percebi que ela não está só “dentro de mim”. Ela está também perto de mim, encostada no cotidiano, guardada num lugar que tem endereço e mão: Camboinha, um armário, um conjunto de fotos que atravessa décadas.
São imagens dos anos 80, 90 e início dos anos 2000 não são apenas registros. São uma forma de comprovar que existimos num tempo comum: a cor do papel, a marca do laboratório, a roupa, o rosto e o entorno.
Ali, a lembrança tem materialidade e tem contexto. A memória não aparece como um fluxo; ela aparece como um objeto que exige gesto: abrir a porta, puxar a caixa, tocar a foto, identificar quem está ali, lembrar o que aconteceu antes e depois daquele instante.
Quando a memória era um álbum, havia um ritmo próprio de recordação. Era menos frequente, mas mais densa: cada imagem puxava uma sequência de falas, de lugares e de relações. O objeto guardado não oferecia atalhos; ele oferecia camadas.
E essas camadas não eram apenas minhas. Eram compartilháveis no mesmo espaço, sem senha, sem atualização de sistema, sem assinatura mensal, sem mudanças de política de uso. A memória se sustentava numa ecologia doméstica e territorial: a casa, a cidade, o litoral, os encontros, a continuidade da paisagem e das pessoas.
Esse regime está em transição. A tela encurtou a distância entre produzir e ver. A gente registra tudo, o tempo inteiro. A memória parece mais próxima, mais acessível, mais “na mão”. Só que essa proximidade tem um custo cognitivo e político, a lembrança passa a ser organizada como fluxo. Em vez de uma imagem que se fixa e pede interpretação, temos um espectro em rolagem, com baixa permanência e alta substituição.
A cognição deixa de ser aberta, no sentido de buscar o entorno, comparar, demorar, reconstruir. A cognição passa a ser conduzida por notificações, recortes, clipes, trechos. O olhar não circula 360 graus; ele se concentra na verticalidade do feed. A experiência da tridimensionalidade do mundo, mesmo quando não é “virtual”, cede espaço a uma bidimensionalidade operada, em que o que conta é o que pode ser exibido rapidamente.
O ponto central não é nostalgia do papel. É governança da lembrança. A memória que hoje produzimos tende a ser depositada em storages de empresas globais: redes sociais, provedores de nuvem, ecossistemas de dispositivos.
Esse armazenamento é real e funciona, mas não foi desenhado para garantir a continuidade do vínculo, do lugar e do contexto. Foi desenhado para garantir disponibilidade de serviço sob contratos e regras que mudam. A memória passa a depender de login, de termos de uso, de padrões de compressão, de decisões de moderação e de atualizações que o usuário não controla.
Quando a lembrança depende de camadas técnicas e jurídicas externas ao território, a memória deixa de ser um bem doméstico e comunitário para se tornar uma condição de acesso.
Nessa passagem, aparece uma contradição: registramos mais, mas preservamos menos. O volume não se converte automaticamente em arquivo. A obsolescência não é apenas “o formato antigo” que sumiu; é o ecossistema que envelhece e torna o conteúdo irrecuperável por incompatibilidade, falta de migração ou perda de contexto.
Diretrizes técnicas de preservação reconhecem que nenhum formato físico ou digital é eterno e que a obsolescência é previsível: exige gestão e planejamento contínuos.
O problema, para a memória cotidiana, é que essa gestão raramente existe na vida comum. E, sem gestão, o que fica é o que a plataforma mantém visível e o que o algoritmo decide reexibir. É aqui que o tema deixa de ser apenas técnico e vira cultural. O que se perde não é só o arquivo; é a capacidade de reconstruir identidade a partir de rastros confiáveis.
O arquivo digital exige procedimentos: nomeação, descrição, redundância, cópias, formatos adequados, planejamento de longo prazo. Sem essas práticas, a memória vira “conteúdo” que circula, mas não se organiza como acervo. E, sem acervo, a identidade cultural se torna refém daquilo que está disponível no agora.
Ao mesmo tempo, as plataformas reorganizam a lembrança como valor econômico. A interação produz dados: tempo de tela, preferências, deslocamentos de atenção, padrões de consumo.
A memória, então, deixa de ser apenas “história vivida” e passa a ser “insumo operacional”. Não se trata apenas de guardar; trata-se de classificar, predizer, induzir. A pessoa vira perfil; o encontro vira métrica; o desejo vira probabilidade; a identidade vira segmento.
E a pergunta que você formula é objetiva: quem guarda teu tempo, teu espaço e tua construção de conhecimento?
Se a resposta é “um sistema que otimiza mercado”, então a lembrança deixa de ser soberania do sujeito e passa a ser governança externa da vida cotidiana.
A discussão atual sobre TV 3.0 ajuda a materializar essa mudança no audiovisual. Em agosto de 2025, o Brasil regulamentou a TV 3.0 (DTV+), oferece melhor qualidade de áudio e vídeo, interatividade, personalização de conteúdo e serviços baseados em dados, mantendo o caráter gratuito da radiodifusão, mas com camadas digitais avançadas.
Do ponto de vista cultural, o ponto crítico é outro: a televisão aberta, historicamente, funcionou como uma máquina de memória coletiva territorializada, com programação local, jornalismo de proximidade e produção regional como referência de pertencimento.
Quando a televisão se torna híbrida, sinal + internet + aplicações, ela ganha poder de personalização e segmentação. A crítica não é “tecnologia é ruim”; a crítica é “qual é o regime de governança” dessa tecnologia.
No fundo, o problema não é que deixaremos de ser “metadados”. O problema é que, sem uma política de memória, seremos apenas metadados para terceiros: rastros úteis para segmentação e descartáveis para a história.
A memória material do armário em Camboinha lembra que pertencimento exige lugar, gesto e continuidade.
Os textos publicados nesta seção “Pensamento Plural” são de responsabilidade de seus autores e não refletem, necessariamente, a opinião do Blog.




